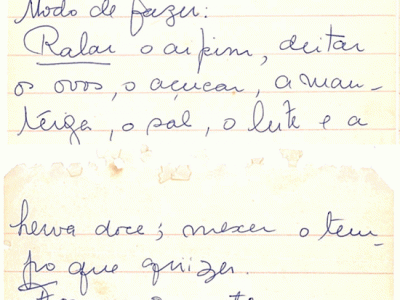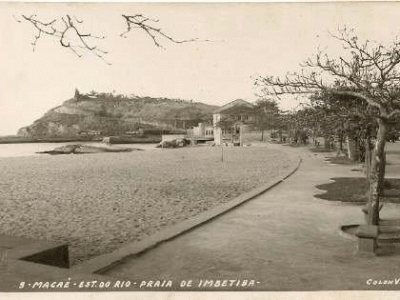Quinze países europeus começaram a Copa do Mundo de 2002: França, Irlanda, Dinamarca, Alemanha, Inglaterra, Suécia, Espanha, Eslovênia, Croácia, Itália, Bélgica, Polônia, Rússia, Estados Unidos (que, pelo estilo, considero europeu) e Portugal. Deles, restaram nove: Dinamarca, Inglaterra, Bélgica, Suécia, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Irlanda e Itália. A grande zebra européia foi a seleção francesa, campeã de 1998, eliminada logo na primeira fase sem marcar um gol sequer. Herdeiras do bom futebol iugoslavo, era de se esperar que Eslovênia ou Croácia passasse para as oitavas de final, mas ambas foram eliminadas. Surpresa foi também a Itália ter superado a primeira fase, já que apresentou um desempenho sofrível nos seus três jogos. A Polônia está muito distante do futebol que exibiu no passado. Não adiantou a Portugal contar com Figo, considerado pela Fifa como o melhor jogador do mundo em 2001. Uma andorinha só não faz verão. Com o jogo de hoje, já pelas oitavas de final, entre Inglaterra e Dinamarca, o primeiro time venceu tranquilamente o segundo por 3x0. Portanto, novis fora oito.
A América Latina começou com sete selecionados: Uruguai, Argentina, Paraguai, México, Brasil, Equador e Costa Rica. Restaram apenas três: Brasil, Paraguai e México. A grande decepção foi a Argentina, cotada como uma das duas (a outra foi a França, mais por conta de sua exagerada auto-confiança que pela avaliação de especialistas) mais fortes candidatas ao título mundial. A Inglaterra mandou-a cedo e melancolicamente para casa. Uruguai, em péssima campanha, também foi embora. Era de se esperar que Costa Rica e Equador também partissem. E agora também se vai o Paraguai, na primeira rodada das oitavas de final, derrotado pela Alemanha por 1x0. Sobraram apenas Brasil e México. Parece que a grande surpresa, entre os latino-americanos, foi o Brasil ter chegado à segunda fase, já que vinha se sustentando aos trancos e barrancos. Mas caindo numa chave fraca, ele apenas jogou três amistosos na primeira fase.
Dos cinco países africanos que começaram o campeonato – Senegal, Camarões, Nigéria, África do Sul e Tunísia – restou apenas o Senegal. Esperava-se campanha melhor de Camarões, que vinha revelando um futebol alegre e descontraído. Da mesma forma, a África do Sul alimentou esperanças em sua torcida, mas não resistiu à pressão de adversários mais experientes.
Finalmente, a Ásia iniciou com cinco países: Arábia Saudita, Turquia, China, Coréia do Sul e Japão. Arábia Saudita e China, praticando um futebol por demais ingênuo, foram logo eliminadas. Turquia dependeu da vitória do Brasil sobre a Costa Rica e da fraca seleção chinesa, que foi derrotada por ela por 3x0. Quanto ao Japão e à Coréia do Sul, comentam os entendidos que estão apresentando um futebol de bom nível, podendo mesmo ser consideradas as revelações da Copa. Sei não. Ambas estão jogando em casa e isto as coloca em campo com uma imensa torcida, que sempre cumpre o papel do 12º jogador.
Mas, no cômputo final, este primeiro balanço mostra apenas o que já se esperava. Se a Europa participa com mais selecionados, não é de estranhar que passe à fase seguinte também com uma representação maior. Segundo: os bons analistas estão apontando este campeonato como um dos mais fracos de todas as copas. A escola latino-americana de futebol, que estava ganhando terreno sobre a África, rendeu-se à escola européia. A arte foi abandonada em nome da eficiência. Todos estão jogando de forma muito parecida. O futebol também foi arrastado pela globalização, o que significa adotar o estilo dos países do norte, senhores da nova ordem mundial.
1- Nova concepção de sujeito. Até hoje, o paradigma mecanicista continua dando as cartas quanto à interpretação do mundo e às filosofias do sujeito. Embora os enunciados, em grande medida, tenham se calado, suas concepções impregnaram nossas mentes. Ainda ecoa o “penso, logo existo”, de Descartes, ou o “simbolizo, logo existo”, de Cassirer. A biologia complexa, notadamente a etologia, está propondo há tempo o “computo, logo existo”. Computar consiste em recolher as informações do meio e processá-las em proveito do indivíduo vivo e da espécie. Trata-se de uma forma de conhecimento que não se restringe aos organismos que contam com sistema nervoso central e/ou periférico. Ele se estende também às bactérias, aos protozoários, aos fungos e aos vegetais. Neste sentido, a natureza não-humana, ainda vista como objeto de conhecimento pelas ciências humanas, passa a ser também sujeito, ao passo que o ser humano individual ou coletivo transforma-se também em objeto do seu próprio conhecimento.
2- Natureza não viva. E a natureza não viva, continua sendo apenas objeto de estudo? Quem examina a história do Universo, da Via Láctea, do sistema planetário solar e da Terra sabe muito bem que os fenômenos físico-químicos são os principais agentes responsáveis por transformações. Restringindo-nos à Terra, sabemos que o choque de corpos celestes com o planeta, as mudanças de inclinação do eixo terrestre, o vulcanismo, o tectonismo, as mudanças climáticas, as oscilações dos oceanos etc. têm provocado mais transformações na Terra do que a vida e a humanidade. A agricultura, a pecuária, as cidades, as navegações, as revoluções econômicas só puderam acontecer graças a uma estrutura climática com cerca de 10 mil anos de idade que batizamos de Holoceno. Assim, mesmo sem ser provocada, a natureza físico-química tem se comportado como sujeito de transformação, o que a tradição humanista procura desconhecer ou negligenciar.
3- Natureza não-viva como agente revolucionário. A globalização construída pelo mundo ocidental gerou um sistema mundial extremamente complexo. O principal responsável por tal situação é o capitalismo. O desejo de lucrar tornou-se muito poderoso e parece não encontrar limites éticos. De certa forma, o socialismo é fator integrante da globalização. As explicações clássicas parecem não encontrar mais saída para as sucessivas crises do capitalismo. Se acompanharmos o projeto neoliberal, ele está vencendo, mas não em sua forma utópica, que tanto fascinou Michel Foucault no final de sua vida. O neoliberalismo está dando as cartas, mas com o apoio dos estados nacionais, que, teoricamente, ele repudia. Graças a ele, as crises econômicas, social e ambiental se ampliam cada vez mais. A proposta marxista clássica, segundo a qual a classe trabalhadora, na sua práxis, passa de objeto a sujeito de sua história, promovendo uma revolução redentora, fracassou e não tem mais lugar. A versão do marxismo, segundo Gramsci, parece o mito de Tântalo: quanto mais o socialismo, paciente e pacificamente, se aproxima dos aparelhos de Estado para dominá-los por dentro, mais o sonho se afasta, pois os representantes do capitalismo não são tolos. Esperar que os miseráveis do mundo se organizem e, com ajuda de pequenos empresários e de intelectuais comprometidos coma causa revolucionária, promovam a revolução, como concebe Eslavoj Zizek, é sonhar com o impossível. O próprio Zizek lembra que o ímpeto revolucionário dos miseráveis se aquieta com a ida deles para o crime ou para igrejas. Sendo assim, parece que a última esperança reside nas forças da natureza, agora chicoteadas por uma economia-mundo. As estruturas ambientais naturalmente construídas e que permitiram à ciência humana criar o conceito de Holoceno estão sendo bombardeadas pela própria humanidade impregnada pelo capitalismo. O bombardeio está causando mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, alterações quantitativas e qualitativas na água doce, aceleração dos ciclos de nitrogênio e fósforo, empobrecimento da biodiversidade, avanço da agropecuária e da urbanização sobre os solos, concentração de poeira na atmosfera etc. Adotando a ideologia do poderoso, daquele que define as estratégias, os dominados criam táticas de sobrevivência que agravam mais ainda a crise ambiental. Aprendiz de feiticeiro, a humanidade está sujeita, agora, a um novo agente revolucionário sem consciência: a natureza não-humana.
Parece que caberá a ela restabelecer o equilíbrio perdido, causando profundos estragos e sofrimento à humanidade. Acontece que a Terra nos ignora completamente. Somos um corpo estranho que deve ser colocado em seu devido lugar.
Enquanto isso, a Agência Nacional de Petróleo promove o leilão para a venda do Campo de Libra, que permitirá aumentar a produção de petróleo com sua extração na camada pré-sal. Só há um candidato: um consórcio formado pela Petrobras, uma empresa francesa, uma anglo-holandesa e duas estatais chinesas.
E o motorista continua rumo ao precipício. Em alta velocidade, ele passa por um transeunte que lhe faz sinal tentando preveni-lo do perigo. Mas, com os vidros da janela fechados, ele não escuta nada. O automóvel conta com todos os requisitos da tecnologia mais avançada. O motorista se sente bastante confortável no ar condicionado.
Enquanto isso, a Agência Nacional do Petróleo leiloa jazidas para extração de gás de xisto em vários lugares do Brasil. Os Estados Unidos são pioneiros na extração deste gás, não obstante cientistas de todo o mundo e até mesmo a agência governamental norte-americana de ambiente tenham advertido do perigo que a extração desse gás representa para a natureza.
De volta ao motorista, lá vai ele, alegre, acompanhando com assobio uma canção que sai da sua sofisticada aparelhagem de som. Outra placa o adverte do perigo iminente. Mas ele não crê e não reduz a velocidade do veículo.
Leio, nos jornais, que um grupo de empresários pretende construir um porto em São Francisco de Itabapoana. Com ele, haverá uma sequência de quatro portos próximos: na Restinga de Marobá, em São Francisco de Itabapoana, na Praia do Açu e em Barra do Furado. Agora, chega a notícia de que se pretende construir mais um porto na Praia do Barreto, em Macaé, na área de amortecimento do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Assim, ao todo, serão cinco portos numa costa completamente imprópria para este tipo de empreendimento. O efeito sinérgico negativo será desastroso para a região.
Mas o motorista prossegue na sua marcha alucinada em direção ao abismo. Mais um passante lhe faz sinais, chegando quase a entrar na estrada. Ao volante, o homem se mostra confiante. Ele não acredita em catástrofes futuras. Ele é egoísta, individualista e imediatista. A tecnologia deixou-o cego.
Nelson Mandela morreu. Ele foi maior do que a África do Sul, mas não é maior do que o planeta. Governantes do mundo todo o homenageiam pelo grande feito de acabar definitivamente com o regime de apartheid. Já na Europa Ocidental, os habitantes da Ucrânia, que integrou a União Soviética, desejam que o país participe da União Européia, por mais que a crise campeie entre seus integrantes. O governo russo pressiona o governo ucraniano para não ceder aos reclamos populares. O império czarista russo continuou a assombrar a União Soviética, e esta sobrevive na Rússia atual. Não tenho notícias do movimento ucraniano Fêmen, formado por mulheres que mostram os seios nus por qualquer motivo. Descobriu-se que, por trás do movimento, existe um homem.
O motorista continua seguro em seu carro. É seu mundo. Um mundo sem passado e sem futuro. Agora, ele passa por mim em alta velocidade. Não o advirto quanto ao perigo. Ele não acreditaria em mim, e eu estou muito descrente dos motoristas.
Os países integrantes do ultrapassado Conselho de Segurança da ONU aceitam os acenos de paz do novo presidente do Irã. Seus líderes pedem que Israel não atrapalhe as negociações. Não deixa de ser um golpe de mestre do Irã, que pode isolar Israel no Oriente Médio. O passo, porém, não levará o motorista a frear o carro no pouco espaço que lhe resta. No extremo oriente, o regime ditatorial da Coréia do Norte executa o tio do ditador sob acusação de traição e corrupção. Michelle Bachelet, que terminou seu primeiro mandato com a popularidade em baixa, é eleita novamente presidente do Chile. Por mais que um governante seja progressista, ele é sempre prisioneiro do desenvolvimentismo.
Ouvi um forte estrondo. Corri até a margem do despenhadeiro. O luxuoso automóvel estava em chamas lá embaixo. Em seguida, explodiu. Os bombeiros nada puderam fazer. Algumas adolescentes usaram celulares para tirar fotos suas, tendo o desastre ao fundo, a fim de postar no Facebook.
O grande pensador francês Michel de Certeau usa as duas palavras para designar noções diferentes. Para ele, estratégia é o domínio construído pelo forte, pelo poderoso. Já as táticas referem-se aos movimentos desenvolvidos pelos fracos e dominados para sobreviverem no território do poderoso. Embora Certeau, no seu livro “A invenção do cotidiano”, restrinja-se a estudar as táticas de sobrevivência do ser humano em estratégias as mais diversas, ele estende os movimentos táticos a todos os seres vivos.
Para fins explicativos, a tese de Certeau é um verdadeiro achado. Antes de qualquer proposta de transformação da estratégia e, por conseguinte, das táticas, é fundamental conhecer o domínio criado pelos fortes e os itinerários construídos pelos fracos em seu interior. Com base no autor francês, acabo recorrendo a uma conclusão de Marx: a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Pode parecer contraditório, mas as táticas de sobrevivência dos dominados não apenas respeitam as concepções dos dominadores como as incorporam e as desenvolvem.
Entre 1989 e 1991, assistimos à ruína do grande projeto soviético, envolvendo não só a própria União Soviética, como também toda a Europa Oriental, a Iugoslávia e a Alemanha Oriental. O sonho de extinguir a propriedade privada dos meios de produção esfumou-se na rude realidade de transformar riqueza em capital com o fim de auferir lucro. Desse desmoronamento, restaram apenas China, Coréia do Norte e Cuba, que não podemos mais considerar experiências socialistas com vistas ao comunismo.
Não estou externando tristeza por este fracasso. A crítica ecologista dirige-se ao capitalismo e ao socialismo real, ao liberalismo e a todas as formas de socialismo. Estes sistemas de pensamento excluíram a natureza não humana de suas preocupações, cuidando apenas da felicidade e dos assuntos humanos. Foram mais longe ainda: além de ignorar a natureza, também a agrediram e contribuíram para construir a crise ambiental planetária da atualidade.
Quando examino as táticas de sobrevivência dos fracos e dominados, noto que elas reproduzem em tamanho menor as práticas do dominante. Nos ínfimos detalhes, o dominado se comporta como dominador da natureza. Ele também, o dominado, é imediatista e individualista. Ele também quer usar a natureza em seu próprio benefício. Sempre que me chamam para opinar sobre um projeto ou uma ação do poderoso, a pedido dos atingidos por elas, verifico que eles, os atingidos, já praticaram muitos estragos, criando, inclusive, um contexto que pesa contra eles.
A atitude dos dominados é a de viver sua vidinha de maneira comodista e individualista. Enquanto o dominador estiver destruindo a natureza sem atingir seus interesses, nenhuma voz se levanta contra os grandes empreendimentos, a não ser a dos críticos do sistema, geralmente pessoas da classe média que pensam além dos seus interesses particulares. Todavia, no momento em que um grande empreendimento atinge os interesses particulares dos pequenos, estes protestam.
Reconheço, é claro, as experiências – pequenas ou grandes – que contrariam a estratégia, tentando corroê-la pelas beiradas ou por qualquer ponto frágil dela. Talvez, com o agravamento da crise socioambiental causada pela estratégia dominante em nível global, tais experiências apontem para um novo caminho.
No momento, contudo, não vislumbro a perspectiva de evitar o abismo. Em sua grande maioria, fortes e fracos trabalham para a catástrofe. Mas posso estar errado na minha avaliação. Além do mais, pode ser que algum evento imprevisível mude o rumo da estratégia global, que colide com os limites da natureza e está liberando suas poderosas forças. Elas, mais do que os humanos, podem mudar a estratégia atual.
Deixo bem claro que a humanidade pode provocar um estrago muito profundo no planeta, alterando radicalmente suas condições climáticas, condenando muitas espécies à extinção, acidificando os oceanos, destruindo os ecossistemas terrestres nativos etc. Mas não pode detonar a Terra, nem mesmo usando todo seu arsenal nuclear. Embebida numa cultura materialista, imediatista, individualista e gananciosa, a humanidade é muito forte para mudar as condições ambientais do Holoceno, criadas por mudanças naturais, porém muito fraca para esfarelar a Terra e inviabilizar sua regeneração.
Das menores para as maiores ameaças naturais pairando sobre a Terra, apontemos o vulcanismo. Se grande parte dos vulcões do planeta entrasse em erupção, como já aconteceu em períodos pré-humanos, uma quantidade muito grande de partículas seria lançada na atmosfera, dificultando o processo de fotossíntese e comprometendo a cadeia alimentar. Além do mais, a destruição das obras humanas ocorreria com grande facilidade porque colonizamos irresponsavelmente a Terra. Contudo, seria difícil prever o fim da vida e da humanidade. Do mesmo modo, uma série de terremotos e maremotos causaria grandes estragos à humanidade e à vida, bem mais que no passado, quando havia maiores espaços livres.
Mudanças na inclinação do eixo terrestre poderiam ser desastrosas para os ecossistemas nativos, a biodiversidade, a economia e as sociedades humanas de um modo geral. É a inclinação que produz as estações do ano. Se houvesse uma mudança brusca no eixo oblíquo, mudanças climáticas seriam muito danosas. Tais mudanças ocorrem lentamente, ao longo de milênios, permitindo à vida adaptar-se às novas condições. Mas se a velocidade de rotação da Terra mudasse? Cientistas acreditam que os estragos seriam bem mais profundos, pois a gravidade não teria mais força para reter um elemento essencial à vida: a água. Especula-se que Marte já teve oceanos e vida, mas mudanças na rotação do planeta deixaram os mares fugir para o espaço. Se, de fato, os cientistas estão certos, o fim da água na Terra seria o fim da vida, incluindo a humanidade.
Ao lado dos fatores internos de catástrofes, há os fatores externos. O principal deles é a colisão de corpos celestes com a Terra. A maioria dos paleontólogos acredita que o choque de um grande asteróide com o planeta tenha sido o principal responsável pela extinção dos dinossauros, há cerca ou a partir de 65 milhões de anos. Nosso mundo continua exposto a este perigo. Nossos protetores são Júpiter e a atmosfera terrestre. O primeiro é tão grande que atrai para si grande número de corpos celestes errantes. Quanto à atmosfera terrestre, o oxigênio presente nela queima os corpos invasores. Mas não estamos inteiramente a salvo. Em fevereiro deste ano, o meteoro Chelaybinsk burlou todos os vigilantes, inclusive os humanos, e se chocou com a superfície terrestre na Rússia. Embora não tenha causado nenhuma vítima fatal, ele causou grande estrago material. Pela avaliação de estudiosos, os estragos seriam muito maiores se ele caísse num núcleo urbano.
Li recentemente duas hipóteses astronômicas estranhas. A primeira parte da premissa de que o Universo nasceu gasoso. Estaríamos agora na sua fase líquida, em sentido metafórico, é claro. Ao chegar ao estado sólido, ainda metaforicamente, sua expansão seria sustada e ele morreria. A outra parte da hipótese aventada por Edgar Morin: existe um multiverso, ou seja, outros universos além do nosso. A expansão e o choque deles representariam um colapso final.
Este artigo meio insólito procura mostrar como não vivemos num mar de tranquilidade na Terra. O físico brasileiro Marcelo Gleiser, de renome internacional e ateu, crê que as condições para a vida na Terra parecem configurar um milagre. Nosso planeta é hostil naturalmente, mas a vida (não a nossa) construiu um mundo habitável, até certo ponto saudável e bonito. Ele deve chegar ao fim total daqui a 5 bilhões de anos. Até lá, pode ser que encontremos outro para nos mudarmos. Por enquanto, contudo, é o único que temos. Infelizmente, os argumentos desfilados aqui não sensibilizam a humanidade, sobretudo os poderosos, quanto à importância de protegê-lo.
Falar em limites do crescimento pressupõe definir o tipo de crescimento e os limites da Terra. Um crescimento econômico baseado em matérias não renováveis é bem mais preocupante do que um crescimento sustentado por matérias não renováveis. Quanto aos limites da Terra, eles dependem de muitas variáveis. O Centro Resiliência de Estocolmo apontou dez fatores que ameaçam o estilo de crescimento adotado pelos países ocidentais e ocidentalizados pelo processo de globalização: 1- aumento das temperaturas planetárias, 2- esgarçamento da camada de ozônio, 3- alterações profundas nos oceanos (aquecimento e acidificação), 4- empobrecimento da biodiversidade, 5- uso intensivo do solo (remoção da vegetação nativa, agropecuária e urbanização), 6- comprometimento da água doce (quantidade e qualidade), 7- aceleração do ciclo do nitrogênio, 8- aceleração do ciclo do fósforo, 9- aumento de poeira na atmosfera e 10- poluição química.
Estes dez fatores atuam de forma natural, mas estão sendo potencializados pela ação humana coletiva. Na verdade, o que os cientistas do Centro Resiliência vêm estudando são as crises ambientais planetárias anteriores à atual. Eles buscam nelas seus principais elementos causadores. Estudam também a resiliência da Terra, ou seja, sua capacidade de suportar impactos e de absorvê-los sem mudar seus traços fundamentais atuais. A Terra é um organismo vivo, como propôs o cientista James Lovelock, considerado, no início, mais religioso que cientista. Hoje, sua hipótese virou tese. De fato, os elementos vivos e não vivos interagem e retroagem, formando um megaorganismo vivo, dinâmico e complexo. Assim, falar na morte do planeta por ação humana é exagero. Os hominídeos enfrentaram mudanças ambientais profundas e sobreviveram a elas. Mais que isso: tais mudanças estimularam as transformações biológicas (mutações genéticas e seleção natural), destruindo espécies e produzindo outras.
No final do processo, restou apenas o “Homo sapiens”, que se organizou, durante o Pleistoceno, em sociedades de coletores e caçadores. Estas duas atividades econômicas obrigava tais sociedades a uma vida nômade. A grande mudança climática natural entre o Pleistoceno e o Holoceno provocou a extinção de muitas espécies vegetais e animais, mas o “Homo sapiens” resistiu a ela. Algumas sociedades nômades domesticaram plantas e animais, criando a agricultura e o pastoreio, atividades que permitiram a sua sedentarização. Posteriormente, algumas sociedades sedentárias criaram cidades e avançaram para o que, por falta de expressão adequada, denominamos de civilização. Este processo ocorreu primeiro no Oriente Médio e, depois, em várias partes do mundo de forma independente.
De todas as sociedades civilizadas, a ocidental foi a única a criar um modo de produção cuja finalidade não era atender as necessidades básicas do ser humano, mas obter lucro. Visando acumular sempre mais capital, o mundo ocidental passou a produzir tecnologias sempre mais aprimoradas para exploração da natureza. Assim, eclodiu a revolução industrial. A maioria dos países ficou fora da industrialização, mas todos foram atingidos por suas consequências. Tanto capitalismo quanto socialismo utilizaram-se da mesma tecnologia para extrair matérias do planeta e usá-las como energia e bens de consumo. Na outra ponta, o processo de produção abalou o equilíbrio ambiental e social global.
A ameaça que paira sobre a humanidade não é a de extinguir o planeta ou de sua auto-extinção, mas a de mudanças profundas nas condições ambientais que nos permitiram chegar até aqui.
Zygmunt Bauman, Stéphane Hessel e Edgar Morin acreditam ser possível exercer controle sobre o capitalismo. O Estado e a sociedade seriam as instâncias controladoras, estabelecendo limites ao lucro, promovendo justiça social e protegendo o ambiente. Não que eles acreditem no capitalismo. A bem dizer, os três e outros mais percebem que o capitalismo não pode ser superado no momento presente. Morin concebe um Estado forte no plano interno, mas que reduz sua soberania em prol de uma organização mundial, como a ONU, por exemplo. Pelo menos, os três não se posicionaram como Mao-tse Tung, que, depois de levar milhares de pessoas à morte em duas revoluções contra o capitalismo, concluiu que este ainda não poderia ser destruído.
Ex-marxista, mas com posições de esquerda, como Edgar Morin, Immanuel Wallerstein prevê o fim do capitalismo, devorado em suas contradições internas em prazo médio. Ele toma o cuidado de não definir como será o sistema sucessor do capitalismo. Assim, o agente destruidor serão as sucessivas crises do modo de produção.
Entre os marxistas - ortodoxos ou não -, há posturas as mais diversas. Existem os que continuam acreditando na classe operária como sujeito revolucionário, apesar da falência de todas as experiências socialistas. Há os que assumem o marxismo solitariamente, como forma de resistência pessoal ao capitalismo. Há os que afirmam a grande influência do marxismo na atualidade. Em entrevista concedida à "Folha de São Paulo" de 17/11/2013, o filósofo marxista István Mészáros, com razão, acusa o capitalismo de produzir crises que geram desemprego, aumentam o número de miseráveis e agridem o planeta. Ao que parece, a natureza é, para ele, um palco violado pelo capital. Mas, apesar da atualidade do marxismo, Mészáros não esclarece quem será o sujeito revolucionário transformador.
Michael Löwy, pensador marxista nascido no Brasil e radicado na França, formulou o ecossocialismo, projeto excelente. Mas quem será o sujeito a viabilizá-lo? Certamente, as classes sociais desfavorecidas. Por outro lado, o filósofo marxista esloveno Slavoj Žižek vê a grande massa de miseráveis do mundo como potenciais agentes da revolução socialista, contando com o apoio de pequenos empresários e de intelectuais comprometidos com a causa da transformação. Ao mesmo tempo, contudo, reconhece que os miseráveis tendem a se converter às igrejas evangélicas ou a cair na criminalidade.
Neste breve panorama, que não pretende ser exaustivo, o "Homem", sempre ele, é o único animal capaz de transformar o mundo. Examinando a história do Universo, assumo uma atitude humilde. Há forças naturais com enorme capacidade de transformação. Foram eventos naturais que provocaram as maiores crises ambientais enfrentadas pela Terra, antes que o "Homem" andasse sobre ela. Num ponto, concordo que o "Homem" é capaz de produzir grandes transformações. Desde a primeira revolução industrial, ele vem agredindo a humanidade e a natureza de forma nunca vista antes.
Na mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher. Ela se casou com Epimeteu, que ganhou dos deuses uma caixa mantida sempre fechada. Ela encerrava todos os males do mundo. Mesmo com a forte recomendação de nunca abrir a caixa, Pandora não resistiu à tentação de conhecer seu conteúdo e desrespeitou o marido, assim como Eva desrespeitou a ordem de Deus. Desse modo, nasceram todos os males do mundo. Dentro da caixa, ficou apenas a esperança. A parábola se aplica perfeitamente aos sistemas capitalista e socialista pós-revolução industrial. A diferença é que, agora, nem a esperança restou. Os "Homens" perderam o controle sobre sua obra. Se existe esperança de transformação, ela passou às mãos das forças irracionais da natureza, ampliadas de forma imprevisível pelas ações humanas.
A natureza enfurecida, mas não vingativa, destruirá estruturas, causará muitas mortes, mas não extinguirá a espécie humana. Depois de tudo, os sobreviventes talvez consigam criar uma civilização social e ecologicamente sustentada.
Assim, o marxismo não consegue explicar, por exemplo, como algumas sociedades caçadoras e coletoras (as do Paleolítico) se transformaram em agricultoras e pastoras (as do Neolítico) recorrendo apenas à dinâmica interna das primeiras. Entre elas, não havia classes, empresários, cidades, Estados, enfim, elementos propícios a contradições internas que levassem tais sociedades à condição de sedentárias ou semi-sedentárias. A domesticação de plantas e animais só foi possível com as grandes mudanças climáticas do Pleistoceno, com o aquecimento natural do planeta e com o derretimento das geleiras, que quase alcançavam o Trópico de Câncer.
Reconheço três grupos de fatores externos que podem influenciar a dinâmica interna de uma sociedade: 1- os humanos, 2- os biológicos e 3- os físicos. As primeiras cidades foram construídas há cerca de 3200 anos antes de Cristo, talvez mais, no Oriente Médio. Elas eram fortificadas não apenas para se defenderem de outras cidades pertencentes à mesma civilização, como na Suméria, mas também dos nômades que viviam no Deserto da Arábia e nas montanhas do Elã. Eles não faziam parte da civilização sumeriana, mas eram atraídos pelos recursos produzidos nas cidades, sobretudo alimentos. Como explicar todo o processo de aculturação das civilizações orientais sem considerar o maremoto representado por Alexandre da Macedônia. O império alexandrino influenciou até o budismo nas suas origens espaciais, na Índia, chegando à China. O mesmo pode se dizer do tufão europeu, que modificou profundamente as sociedades do mundo inteiro, a partir do século 15. Poder-se-ia argumentar que ainda estamos no domínio do humano.
Então, como absorver as grandes epidemias que varreram a Europa, como a Peste Negra, no século 14, e a Gripe Espanhola, no século XX, que, inclusive, alcançou outros continentes? Já existem estudos de história analisando o papel das epidemias nas mudanças sociais. Por eles, ficamos sabendo que doenças transmissíveis, como a gripe, o sarampo, a varíola e outras dizimaram muitos grupos ameríndios, talvez até mais que as armas de fogo dos europeus. A AIDS apareceu na África e se espalhou pelo mundo, fazendo várias vítimas. Uma corrente explicativa acredita que ela foi transmitida aos humanos por relações sexuais destes com macacos. A gripe aviária também afetou o Sudeste Asiático em 2005. O ebola matou muitas pessoas na África, em 1976 e 1979. Num mundo cada vez mais globalizado pelo ocidente, as epidemias encontram campo fértil para se propagarem.
Quanto aos fenômenos físicos, é certo que eles provocaram profundas mudanças não apenas nas sociedades humanas, mas no planeta, antes da emergência do “Homo sapiens”. A maioria dos paleontólogos acredita que a colisão de um grande asteróide com a Terra tenha exterminado os dinossauros. Como não separo história do Universo, história da vida e história da humanidade, posso citar este exemplo em favor da tese que defendo: não apenas os humanos são sujeitos de história. Com o novo paradigma naturalista organicista, os seres vivos deixam de ser palco ou atores coadjuvantes para serem protagonistas.
O terremoto que assolou Lisboa em 1755 causou destruição em massa. Já a grande erupção do Krakatoa, na Indonésia, em 1883, além de extinguir a ilha em que se situava, matou 37 mil pessoas. Poeira e cinzas lançadas por ele entraram na atmosfera e circularam por todo o planeta. A gravidade da maior erupção vulcânica dos tempos humanos só não foi maior porque havia menos pessoas no mundo. Muitos outros fenômenos físicos podem ser citados, como o terremoto no Haiti, em 2010 e os tsunamis de 2004 e de 2011, na Ásia. Quanto às chuvas na Região Serrana fluminense, em 2011, o recente tufão Hayan, no sul das Filipinas, que matou cerca de 10 mil e deixou atrás de si um grande rastro de destruição, cabe considerar que podem ser resultado da ação humana coletiva pós-revolução industrial.
Edgar Morin propõe, no primeiro volume de “O método” (“A natureza da natureza”), que os fenômenos físicos têm organização interna e externa. Diante das catástrofes climáticas recentes, estou considerando também os fenômenos físicos como agentes de história, embora irracionais.
Judaístas, cristãos e muçulmanos afirmam, atualmente, que a interpretação acima está equivocada. Que o Homem não é o dominador da natureza, mas sim o seu mordomo e zelador. Trata-se de interpretação recente, influenciada pelas concepções do novo paradigma naturalista organicista e dos ecologistas. Mesmo assim, ela não foi assimilada pela esmagadora maioria dos seguidores das três religiões monoteístas abraâmicas. A bem dizer, ela se limita a pensadores e teólogos progressistas. A verdade é que o princípio religioso e filosófico do Homem dominador da natureza impregnou profundamente a filosofia ocidental. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Francis Bacon, Isaac Newton, René Descartes, os pensadores liberais e Karl Marx banham-se nessa tão antiga concepção.
Descartes, por exemplo, aprofunda a separação entre Homem e natureza, sustentando que os seres vivos, inclusive o Homem, são máquinas. Contudo, enquanto os seres vivos são máquinas não pensantes, o Homem é um autômato que pensa. O que garante a existência é a capacidade de pensar. E aquele que pensa (“res cogitans” ou a coisa que pensa) tem direito de dominar a coisa que não pensa (“res extensa”). Assim, o humanismo ocidental se transformou em antropocentrismo, concepção filosófica que situa o Homem no centro do Universo. Para os religiosos, ele é o centro, porém depois de Deus. Para os não-crentes, o Homem está acima de tudo. Portanto, religiosos, agnósticos e ateus têm um ponto em comum: o antropocentrismo. Falo aqui dos agnósticos e ateus clássicos.
Mas não suponha o leitor que, pelo simples fato de pensar, qualquer ser humano é sujeito. Segundo Descartes, o pensamento requer o conhecimento da matemática e a adoção de um método. Podemos assim concluir que só alguns privilegiados pensadores existem. Embora o filósofo francês tenha esclarecido que sua filosofia era válida para o europeu e para o turco, sendo esta segunda palavra sinônima de humanidade, a maioria dos seres humanos estava excluída da condição de sujeito por não pensar em consonância com a matemática e com o método correto.
Com Charles Darwin, no século XIX, a crítica à filosofia cartesiana se aprofunda. Uma sensação incômoda começa a invadir o antropocentrismo: se existe uma separação absoluta entre Homem e natureza, como o Homem tem raízes naturais em função do processo evolutivo? Antes mesmo que Darwin publicasse “A origem das espécies”, em 1859, Voltaire já criticava a concepção dos animais como máquinas, e Jeremy Bentham, pensador liberal, escrevia que homem e animal têm algo em comum. O primeiro pode pensar e o segundo não, mas ambos sentem dor e sofrem.
No século XX, os avanços da biologia, notadamente na etologia, bombardeiam o antropocentrismo. Ernst Cassirer, filósofo alemão, ainda tenta salvar a condição singular da humanidade, afirmando que a diferença entre Homem e animal consiste no fato de que o primeiro é simbólico, ou seja, é capaz de produzir cultura, enquanto que o segundo é incapaz de atingir este patamar.
O paradigma mecanicista continua impregnado no ser humano ocidentalizado, agora de forma prática. Por outro lado, emerge um novo paradigma, que poderíamos chamar de naturalista organicista contemporâneo. Em lugar do “penso, logo existo”, coloca-se agora o “computo, logo existo”. Computar é processar as informações e transformá-las em conhecimento para a vida. Todos os seres vivos – unicelulares ou pluricelulares – computam. Logo, todos podem ser considerados sujeitos e objetos. Sujeitos pelo ato de computar; objetos por poderem ser conhecidos. Expoente do novo naturalismo, o pensador francês Edgar Morin escreve num de seus livros: “O que evidentemente Descartes ignorava, e o que desconhecem as filosofias do sujeito, é que é necessário trivializar esta noção de sujeito e atribuí-la democraticamente a todos os seres vivos, inclusive à bactéria.”
A partir desta premissa, urgem uma nova epistemologia e uma nova ética. Os conceitos de próximo, de irmão e de sujeito se estendem a todos os seres vivos. E o grande salto consiste em estender o conceito de sujeito a todos os fenômenos da natureza, mesmo que se trate de um sujeito inconsciente e até irracional.
Intenta-se, aqui, formular um instrumental teórico que permita abordar o fenômeno dos desastres naturais e antrópicos a partir de Carlo Ginzburg, Fernand Braudel e Edgar Morin. Os conceitos de norma e anomalia, utilizados por Ginzburg em seus estudos de micro-história, permitem, segundo creio, considerar as regularidades ambientais naturais e antrópicas como norma e as irregularidades como anomalia.
Ao romperem a norma, as anomalias naturais ou antrópicas podem ser consideradas desastres. Em termos ecológicos, a norma representa a homeostase de um ecossistema nativo ou antrópico, enquanto que a anomalia representa uma intervenção de ordem interna ou externa ao ecossistema que pode provocar desequilíbrio temporário ou final ao sistema.
Quando temporário, o sistema recupera a norma, o equilíbrio temporariamente abalado. Quando final, o sistema presidido por uma norma se desorganiza por completo, dando lugar à organização de novo sistema regido por outra norma e sujeito a outras anomalias.
Tanto a norma quanto a anomalia devem ser entendidos como relativas e mensuráveis. Podemos exemplificar norma e anomalia naturais valendo-nos da Época do Holoceno ou Atual. A partir de 11-10 mil anos antes do presente (AP), uma norma de aquecimento global natural substituiu a norma da última glaciação da Época Pleistocênica. As temperaturas globais subiram progressivamente até 5.100 anos AP. O nível do mar elevou-se pouco a pouco, produzindo o fenômeno de transgressão marinha. A lenta transgressão pode ser tomada como anomalia em escala longa ou uma norma dentro de outra maior, se considerada em escala curta, comportando, pois, anomalias menores. Assim, norma e anomalia dependem da escala, sendo, portanto, relativas.
Tomando a fase atual do Holoceno, podemos considerar a tsunami e o desastre nuclear por ela causado no Japão como anomalias rompendo a norma. As tempestades de vento, cada vez mais intensas, podem ser entendidas como anomalias climáticas naturais. Contudo, como a ação humana coletiva interfere cada vez mais na norma climática do Holoceno, o natural e o antrópico interagem. Existe o natural mas ele se intensifica pela interferência antrópica.
Mais ainda: mesmo que a anomalia climática seja inteiramente natural, as mudanças antrópicas produzidas no planeta podem torná-la mais virulenta, como no desastre climático que assolou a Zona Serrana do Rio de Janeiro no verão de 2011. O desmatamento, o avanço do meio urbano sobre áreas perigosas e o assoreamento dos cursos d'água acentuaram os efeitos das chuvas, que seriam menos intensos se elas encontrassem superfície florestada e cursos d'água com mais capacidade de vazão e absorção de suas áreas marginais.
Aos conceitos de norma e de anomalia, podemos associar os conceitos de estrutura, conjuntura e evento, formulados por Fernand Braudel. A estrutura equivale a norma. Dependendo da escala, a conjuntura pode corresponder a norma ou a anomalia. O evento é sempre a anomalia. Na estrutura do Holoceno, o breve aquecimento global natural de meados da época pode ser tanto uma conjuntura climática de longa duração como um evento duradouro atuando sobre uma estrutura de longuíssima duração. A grande fome e a peste negra, no século XIV, equivalem a eventos de desastre marcando o fim do breve aquecimento natural medieval, se considerado como conjuntura, franqueando passagem a uma nova conjuntura, esta de resfriamento, que se estende de meados do século XIV a meados do século XIX.
Daí em diante, uma nova conjuntura será caracterizada por mudanças climáticas em que o natural e o antrópico se misturam. Ladurie estuda a grande estrutura climática que, no hemisfério norte, estende-se do ano 1000 ao século XIX. Brian Fagan, sob influência do conhecimento relativo ao aquecimento global antrópico, identifica três estruturas-conjunturas holocênicas ao longo do período estudado por Ladurie, detendo-se na primeira delas.
A maioria esmagadora dos climatologistas da atualidade está convencida de que o aquecimento global, que tem como marco inicial o ano de 1860, tem raiz antrópica. Assim, ele seria uma nova conjuntura, agora produzida pela ação humana coletiva, com eventos climáticos extremos que vêm se acentuando na última década. Estes eventos corresponderiam a anomalias engendradas no interior e por uma conjuntura anômala. Levanta-se até a hipótese de uma nova estrutura a suceder o Holoceno, batizada de Antropoceno.
Por derradeiro, porém exigindo análise mais detalhada, tanto a norma como a anomalia, a estrutura como a conjuntura e o evento são fenômenos complexos, como Edgar Morin entende o conceito de complexidade. Tomando um ecossistemas nativo como norma ou estrutura, verifica-se que, em seu interior, ele contém ordem e desordem a interagir e a gerar organização. O anel recursivo ordem-desordem-interação-organização é sempre retroativo e auto-organizado. A complexidade do sistema pode produzir emergências.
Arthur Soffiati é Doutor em História Social pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2001).
O autor é historiador ambiental desde 1979 e aplica conceitos dos autores mencionados, além de De Certeau, no estudo de história regional. Suas análises procuram compreender as resultantes das relações das sociedades humanas com os ecossistemas nativos, atento não apenas às ações humanas, mas também às respostas dos não-humanos, entendidos em seus estudos como sujeitos de história. Suas investigações sobre as relações de grupos humanos com manguezais revelam que este ecossistema responde com relativa rapidez às intervenções humanas. Suas respostas vão desde a manutenção da norma a anomalias diversas, das quais a morte é a mais radical. Agora, o autor, integrando o Núcleo de Estudos Socioambientais da Universidade Federal Fluminense/Campos dos Goytacazes, volta-se para a história das anomalias climáticas na Ecorregião de São Tomé, por ele delimitada entre os Rios Itapemirim (ES) e Macaé (RJ).
Uma das análises mais lúcidas, a meu ver, foi feita pelo pensador francês Michel Maffesoli. Ele compara o movimento brasileiro aos movimentos de 1968, mas avança em considerar o MPL uma típica manifestação pós-moderna, em que o descontentamento da população chega a um ponto tão grande de intolerância que explode em protestos pelas ruas. Vários grupos (que ele chama de tribos urbanas) se aproximam e formam um movimento em que existe uma bandeira principal – no caso brasileiro, o aumento das tarifas do transporte urbano –, mas que, aos poucos, levanta outras bandeiras. As insatisfações começam a se delinear e o movimento continua aceso depois de atendido o pleito principal.
Há riscos? Claro. A dialética-dialógica do pensador francês Edgar Morin me ajuda bastante a compreender a dinâmica do movimento. Morin explica que toda ordem carrega em si a desordem. A interação de ambas as forças conduz à organização. Os críticos do movimento querem-no ordeiro, condenando a desordem dos baderneiros. O MPL tem proclamado e demonstrado ser pacífico e apartidário, não antipartidário. Mas ele cria condições para que ecloda a desordem promovida por ativistas mais exaltados, por forças marginais não transformadoras dentro do sistema e até por partidos políticos oportunistas e por direitistas infiltrados que pretendem a desmoralização do movimento com o intuito de provocar a intervenção das forças armadas. Esta última, usada como ameaça por José Mariano Beltrame, secretário de segurança do Rio de Janeiro.
Os meios de comunicação começaram taxando o MPL de baderneiro. O resultado da análise não foi muito satisfatório. Então, passaram a falar de vândalos infiltrados e a exaltar a legitimidade das reivindicações dos manifestantes. Contudo, nas coberturas, a TV Globo, por exemplo, dedica espaço maior às ações violentas. No geral, porém, o núcleo organizado-desorganizado do MPL é simpático à classe média. Jovens, idosos, crianças, homens, mulheres, homossexuais, negros participam dele em torno do que é comum a todos e levam, ao mesmo tempo, seus pleitos particulares. Como ecologista, notei que as questões ambientais não mereceram atenção do MPL, mas não torço o nariz para o movimento. A última grande manifestação pública de porte ocorreu há vinte anos, no movimento pelo impedimento de Collor. Tratava-se, então, de movimento com objetivo mais claro e que obteve sucesso. Agora, há muitas demandas reprimidas e imediatas. O ambiente não está entre elas.
De lá pra cá, as insatisfações foram se acumulando e inflando o balão. Os poderes executivos e legislativos de todos os entes federados se afastaram da população. Os partidos políticos, em sua maioria, fecharam-se em torno de si mesmos, numa lógica muito distante de seus programas e do povo. Tanto situação quanto oposição criaram seu mundo próprio e fechado. Da mesma forma, os sindicatos, que passaram a olhar para seu próprio umbigo, esqueceram-se de que estão inseridos num contexto maior. O povo ficou de fora dos entendimentos ou desentendimentos das cúpulas. O MPL está mostrando que a política dos poderes, dos partidos e dos sindicatos está superada ou carente de rápida atualização.
Não tendo caráter revolucionário, o MPL usa as cores da bandeira do Brasil e não o vermelho. Entoa o hino nacional e não o da internacional. Não fala em Marx, Lênin, Mao Tse-tung, Fidel e Guevara. Parece que estes nomes não norteiam os anseios das novas gerações. O MPL nada tem contra a república, o sistema tripartite de governo, a federação, os partidos políticos e os sindicatos. Mas grita basta aos péssimos serviços públicos, à corrupção, à impunidade, à política de cúpula que só atende a interesses restritos.
Com ou sem baderna, rapidamente a presidente, o Congresso Nacional, os governadores, as assembleias legislativas, os prefeitos e vereadores se mexeram, reduzindo o preço das passagens, vetando a PEC 37 e levando Dilma Roussef a apresentar um pacote de medidas reformistas. Parece que as medidas foram tomadas por medo e por desejo de atender ao povo.
Existe o perigo de se aparelhar o movimento ou dele se aproveitar? Claro que existe. Basta ver o que acontece em Campos. No interior, fica mais difícil organizar um movimento sem a invasão de partidos e sindicatos. Já se pode notar a multiplicação de movimentos promovidos por sindicatos e até por forças espúrias, confundindo a opinião pública. Fazer o quê? Sem correr riscos, não se vai adiante. O Brasil deveria ser passado a limpo de quatro em quatro ou de cinco em cinco anos.
O movimento contra o aumento das passagens de transportes urbanos ganhou corpo. Milhares de pessoas organizaram passeatas em São Paulo, no Rio, em Brasília, em várias capitais de estados brasileiros, em cidades do interior e até em cidades de outros países que contam com comunidades brasileiras expressivas, como Nova Iorque, Lisboa e Londres. Outros pleitos foram incorporados pelo movimento: insatisfação com os poderes executivos e legislativos em todos os níveis da federação, combate à corrupção, críticas ao Projeto de Emenda Constitucional que retira do Ministério Público a prerrogativa de investigar, melhoria dos serviços públicos, repúdio aos gastos em preparativos para os campeonatos mundiais etc. Homens, mulheres, homossexuais, jovens e idosos aderiram ao movimento. Arnaldo Jabor fez um mea culpa e mudou de posição. Quanto ao taxista, talvez esteja reclamando dos engarrafamentos causados pelas passeatas.
Há quem critique o movimento, comodamente diante de sua televisão, pelos quebra-quebras e pelos manifestantes fúteis. Há ainda os que cobram mais politização do movimento. Desde já, é possível esclarecer que movimentos com grande participação de pessoas não conseguem exercer controle sobre os exaltados e os que apenas querem curtição. Mais difícil que criticar e elogiar é compreender. De 1968 aos nossos dias, ocorreram movimentos os mais diversos, permitindo construir uma tipologia deles, embora eu não confie muito nas tipologias por retirarem de cada movimento as suas especificidades. Mas, sem perder de vista as particularidades de cada um, as tipologias ajudam. Cabe, então, perguntar que movimento é esse?
Valendo-me do conceito operacional de circuito recursivo, por qualquer ponto em que se procure a resposta, acaba-se novamente no ponto de partida. Não se trata de um movimento de uma única classe social, ou seja, não se enquadra nos movimentos grevistas do ABC paulista, nos quais Lula despontou como liderança. Dele participam pessoas de várias classes sociais, tendo como centro a classe média antiga e nova. A predominância é de jovens estudantes – homens, mulheres, brancos, amarelos, negros, mestiços, homossexuais etc. Há repúdio à participação de partidos, tanto assim que um dos slogans apregoa a retirada das bandeiras de partidos. Há quem defenda o comando de um partido, mas qual deles, se um dos alvos do movimento é a acomodação dos partidos políticos a uma situação indesejada? A bandeira do movimento não é vermelha. É a bandeira do Brasil. Assim também o hino.
A reivindicação inicial é o aumento das tarifas de transporte coletivo, mas, no decorrer das passeatas, veio à tona com clareza um profundo descontentamento com os poderes executivo e legislativo, com a corrupção, com as ligações espúrias entre políticos e empresários. Talvez o grande perigo resida em pleito tão específico diante de tão grande descontentamento e de tanta energia maravilhosamente despendida. Se os governos atenderem ao pleito principal, o que acontecerá com o movimento? De qualquer maneira, fica o recado das ruas.
A partir dessas observações, pode-se concluir que a Primavera do Brasil não pode se enquadrar no tipo árabe, pois não visa à destituição de um ditador nem a laicização do poder, como nos países islâmicos. Não tem o mesmo objetivo do movimento dos caras pintadas, que derrubou Collor de Mello, há vinte anos.
Pautado pela não-violência, ele tem alguma influência do pacifismo gandhiano. Pela defesa dos direitos da população, ele tem filiação com os primórdios do liberalismo, sobretudo com o pensamento de Locke. Segundo este autor, o povo, detentor do poder soberano, firma um contrato social e constitui os poderes executivo e legislativo. Caso os representantes do povo não correspondam aos anseios deste, o mesmo povo que os constituiu pode destituí-los por rebelião e revolução, invocando o poder soberano. Os inspiradores do movimento parecem ser Stéphane Hessel, o intelectual nonagenário que conclamou os jovens a indignarem-se, e Zygmunt Bauman, com sua tese da modernidade líquida.
Não há demérito em classificar o movimento como protoliberal, pois o neoliberalismo esqueceu as raízes do liberalismo. É preciso lembrá-lo de suas origens. E isto o movimento popular de 2013 está fazendo com louvor.
A onipresente empresa Odebrecht foi a escolhida para planejar e executar o programa. Parece até que ela é a própria secretaria municipal de obras. A fim de proteger os núcleos do programa dos problemas causados pela umidade, as margens de lagoas e - em alguns casos - o próprio espelho d'água delas - foram aterrados com material transportado de saibreiras de Guarus. Existem forte suspeitas de que tais saibreiras operam de forma ilegal. Além do mais, a prefeitura contribui, com indivíduos e empresas, para nivelar o terreno urbano e descaracterizar sua topografia.
Já houve questionamentos por parte de engenheiros e arquitetos acerca do programa. Eles chamaram a atenção para os taludes dos aterros, não protegidos por muros de arrimo ou por outros meios, para a acomodação das terras dos aterros, para as rachaduras de ruas e casas. Inclusive, a questão ainda não está resolvida no Ministério Público Estadual. Há também uma arguição quanto ao valor de cada imóvel, no entender dos especialistas, muito além do valor de mercado para as unidades.
O funcionamento cotidiano dos núcleos do Morar Feliz vem revelando problemas previstos por especialistas sérios. O programa foi concebido em gabinetes por técnicos alheios às dimensões sociais e culturais. Não se formulou um plano habitacional popular COM os interessados, mas PARA os interessados, sem nenhuma consulta a eles. A prefeitura mostrou, mais uma vez, seu autoritarismo e sua soberba. Ela continua com a postura de se considerar a única sabedora do que é bom para as pessoas de baixa renda. Aliás, para toda a sociedade. Seus representantes se dizem abertos ao diálogo, mas não é verdade. Quem busca o diálogo encontra sempre as portas fechadas.
A prefeitura não levou em consideração, principalmente, a cultura das pessoas retiradas de certas áreas para ocuparem as unidades do Morar Feliz. Simplesmente as removeu de suas casas, enfiou-as nas que construiu e demoliu as antigas. A pressa eleitoral e o próprio estilo de governar PARA o povo SEM o povo, levou a prefeitura a não estabelecer um diálogo prévio para definir, em linhas gerais, com as comunidades a serem beneficiadas, como elas concebem um conjunto residencial. O lugar do antropólogo foi substituído por engenheiros insensíveis e arrogantes, técnicos que julgam saber o que é melhor para as pessoas de baixa renda.
Deu no que deu ou está dando no que está dando. Traficantes se infiltraram nos conjuntos habitacionais e atazanam os moradores. Casas começaram a apresentar problemas cedo demais. As reclamações começaram a pipocar: falta de áreas públicas de encontro e de lazer, falta de escolas, falta de postos de saúde, falta de transporte coletivo e outras faltas.
Aos poucos, na surdina da noite e dos finais de semana, os moradores começaram a erguer muros em frente as suas casas, a construir puxadinhos para parentes, a alterar pouco a pouco o modelo concebido pelo governo municipal. Assim como houve violência em promover as transferências, inclusive separando pessoas de uma comunidade para alocá-las em outra, está também havendo violência em coibir mudanças no modelo-padrão imposto pelo governo de cima para baixo.
Conjuntos residenciais populares devem ser como bairros. As pessoas não são estandardizadas para morarem em casas idênticas. Não darei soluções técnicas, mas entendo que um programa do porte do Morar Feliz, com intenção de construir dez mil casas, deve levar em conta as características culturais de cada comunidade e contar com a participação de cada uma no processo de concepção e de implantação das unidades.
Ao mudar a concepção da segunda fase do Morar Feliz, a prefeitura municipal parece reconhecer que errou na primeira, mas ainda continua errada em não envolver mais de perto as comunidades interessadas.
João Santo Cristo está fadado a viver uma tragédia porque é pobre e negro. Ele nasceu na Caatinga, teve infância e adolescência sofrida até fugir de sua terra natal. Sua vida evocou a este crítico uma história em quadrinho de Juarez Machado. O insólito artista coloca um homem aprisionado num quadrinho. Ele tenta fugir usando todos os meios disponíveis: punhos, cabeça, pés, urina, objetos existentes no espaço que o aprisiona. Depois de muito tempo e com muito esforço, o quadrinho é rompido, mas o homem se depara com um quadrinho maior, onde está encerrado. Lutar contra ele o desalenta, pois podem existir infinitos quadrinhos externos que vão continuar a aprisioná-lo.
João não sabe que vive uma tragédia, mas tenta sair do caminho que vem seguindo. Tenta ser marceneiro. Tenta levar uma vida limpa quando conhece Maria Lúcia, branca filha de um senador por quem se apaixona e é correspondido em seu sentimento. "Faroeste Caboclo", dirigido por René Sampaio (Brasil, 2013), inspira-se em letra de Renato Russo com mesmo título, mas não lhe é inteiramente fiel no roteiro de Marcos Bernstein e Victor Atherino.
Este crítico assistiu ao filme em sala lotada em grande parte por admiradores de Renato Russo. No final, enquanto giram os créditos, a música é executada com o acompanhamento dos fãs. Só então prestei mais atenção à letra, pois que o rock brasileiro nunca me agradou com seu ritmo binário e melodias simplistas. O rock florescido no Brasil gostava de narrar histórias. Seria difícil imaginar que uma letra de música banal seria roteirizada. O resultado final é bem melhor que a letra, que, por sua vez, é mais detalhada que o filme.
Fabrício Boliveira (João) e Isis Valverde (Maria Lúcia) são os protagonistas. Entre os coadjuvantes, César Troncoso (Pablo) está soberbo no papel de traficante e chefe de quadrilha. Ainda como coadjuvantes, figuram Marcos Paulo (senador), Felipe Abib (o playboy traficante Jeremias) e Antonio Caloni (policial Marco Aurélio). A trama é ambientada, em parte, na Caatinga, e, na maior parte, em Brasília, em cidades periféricas e em bairros já degradados. Passa-se na década de 1980. A reconstituição de época primou pelo capricho, lembrando-se que, na capital da República, existem muitos lugares que parecem não ter mudado muito nos 30 anos.
Nada de excepcional na fotografia de Gustavo Hadba, embora ele tenha conseguido, com reflexos e jogos de luz, transmitir a sensação de ambientes fechados e decadentes. É de se registrar também os cortes espaço-temporais no avançar do filme, transportando o espectador ora para a Caatinga ora para o Cerrado, ora para o campo ora para a cidade.
Enfim, "Faroeste Caboclo" é um filme sóbrio é correto, mas não inova, como "O som ao redor", de Kleber Mendonça Filho, também de 2013.
Machado de Assis começou sua vida de romancista com "Ressurreição", de 1872. Depois, vieram "A mão e a luva" (1874), "Helena" (1876) e "Iaiá Garcia" (1878). Quebrando a regularidade de lançar um romance a cada dois anos, o grande escritor brasileiro lançou, em 1881, o célebre "Memórias Póstumas de Brás Cubas". O estilo era o mesmo, porém cada vez mais aprimorado. Havia algo de diferente em "Memórias". Ele destoava dos quatro primeiros romances, bem escritos, mas suaves. "Brás Cubas" tem tom pessimista, ácido, irônico. Perguntaram-lhe a razão da mudança. Machado de Assis respondeu que não tinha mais nenhum motivo para acreditar na humanidade. Mesmo assim, o escritor continuou a falar da humanidade até "Memorial de Aires", seu último romance, publicado em 1908.
Descrente da humanidade... Entendo esta postura como ampla demais. Há milhões de anos luz de Machado de Assis, também estou desapontado com a humanidade, mas preciso contextualizar melhor meu desapontamento. A grande humanidade não começou com o "Homo sapiens", a nossa espécie. Os mais antigos hominídeos pouco se distinguiam dos grandes macacos. Se pudéssemos vê-los em movimento hoje, diríamos que deles não poderia nascer uma criatura mais perigosa que os grandes felinos, que as serpentes peçonhentas, que invertebrados venenosos. Até certas espécies vegetais apresentariam mais perigo que os primeiros hominídeos.
Contudo, um traço singular de nossos ancestrais, que recebemos de herança, poderia nos causar temor: a cultura, ou seja, a capacidade de conceber soluções para problemas e materializá-las em objetos. Mesmo assim, perceberíamos que várias espécies de macaco desenvolveram tal capacidade. A cultura não é transmissível por via genética, e sim pela educação. Os hominídeos revelam propensão a adquirir sistemas culturais. O caso da língua ilustra bem esta característica. O ser humano nasce com aptidão orgânica para falar uma ou várias língua(s), mas precisa aprendê-la(s) de alguém ou da sociedade. Caso contrário, a aptidão não se desenvolve. Se criado por animais, aprendem os sons que emitem.
Língua também faz parte da cultura, que cada indivíduo aprende em sociedade. Com uma cultura dominada, um grupo social humano pode fazer inovações. Pode inventar técnicas e tecnologias pacíficas ou destruidoras. Pode tanto escrever um romance do porte de "Dom Casmurro" quanto pode construir uma bomba capaz de exterminar milhares de seres humanos e dizimar milhões de seres vivos, de poluir a atmosfera e a água. Outras espécies de macaco podem fazer o mesmo? Só no livro de ficção "O planeta dos macacos". A capacidade de produzir cultura nos símios é limitada. As guerras entre eles jamais causam os estragos das guerras humanas.
Portanto, não estou decepcionado com os primatas não humanos nem com os primeiros hominídeos. Na verdade, não estou decepcionado com a humanidade. O "Homo sapiens" viveu a maior parte da sua história em sociedades extremamente dependentes da natureza não humana, pois nós mesmos somos expressão da natureza. Durante o longo período paleolítico, as sociedades humanas colhiam, pescavam, caçavam e faziam guerra entre si. Nada, porém, que causasse muitos danos, apesar da bem fundamentada tese levantada por Lawrence H. Keeley, segundo a qual as sociedades que ainda vivem em nível paleolítico atualmente fazem guerra de extermínio. Quem quiser conferir que leia "A guerra antes da civilização - o mito do bom selvagem" (São Paulo: É Realizações, 2011).
Não são as culturas do paleolítico, do neolítico e das diversas civilizações que me desencantam, embora aqueles que as viveram fossem também fizessem parte da espécie autodenominada "Homo sapiens". Mais do que no ser humano, descreio da civilização ocidental nos rumos que tomou a partir do século 15. No contato com outros ambientes naturais e culturais, ela mostrou sua intolerância, sua arrogância, sua capacidade de destruir a natureza e as culturas. O que moveu a civilização ocidental a partir de então foi a procura do lucro. Nessa procura, ela construiu uma civilização insuportável que me parece indestrutível no momento.
"Então - perguntará o leitor -, por que você continua lutando?" Por duas razões: primeiramente, minha descrença pode ser fruto de uma interpretação errada que faço do mundo capitalista globalizado. Em segundo lugar, fatores aleatórios e imprevisíveis atuam na história e podem abrir brechas para mudanças. Enfim, sou um pessimista esperançoso. Mas gostaria de viver no passado.
Consta que o compositor romântico tardio Camille Saint-Saëns, ao ouvir as primeiras notas de um fagote, perguntou de qual instrumento se tratava e saiu da sala de concertos em sinal de protesto. Deve ser mais uma das lendas que rondam a estreia de "A sagração da primavera", no Teatro dos Campos Elísios de Paris, em 29 de maio de 1913, composição de Igor Stravinski que considero a fundadora da música contemporânea.
O teatro estava cheio. O concerto começou com o bailado "Les Sylphides", de Chopin, obra bem comportada do grande compositor para piano. Na segunda parte, executou-se o bailado "A Sagração da Primavera", com coreografia concebida por Vaslav Nijinsky, do corpo de baile de Sergei Diaghilev. O público não poupou vaias. Foi necessário que a polícia interviesse para acalmar os ânimos. Os estudiosos tendem a crer que a coreografia chocou mais que a música. Acontece que a concencepção de Nijinsky ficou esquecida por muito tempo, enquanto que "A sagração da primavera" se tornou composição icônica da música contemporânea.
Stravinski já havia composto os bailados "O pássaro de fogo" (1910) e "Petrushka " (1911). Desde 1910, ele vinha fazendo apontamentos para "A sagração da primavera". Suas primeiras grandes peças ainda apresentam uma certa influência romântica, talvez pelo contato que teve com o compositor Rimsky-Korsakov. Mas também indicam que algo de novo estava sendo gestado. Veio então o revolucionário bailado "A sagração da primavera", que não precisa de nenhuma coreografia para ser apreciado. Trata-se de uma composição complexa, com orquestra inovadora pelo uso dos instrumentos, pela polirritmia, pelas dissonâncias, pela assimetria. Em certas passagens, quatro ritmos se superpõe.
Por mais trabalhadas que sejam, as melodias podem ser percebidas pelo ouvido educado. A composição não é ainda de vanguarda, título que se reserva a compositores cujas obras não agradam o leigo e nem a maioria dos especialistas. A dificuldade em memorizar as melodias de "A sagração" deve-se ao fato de que elas estão intimamente associadas à harmonia, à enarmonia e à polirritimia e à orquestração. Com o tempo, a obra foi absorvida pelo público leigo, principalmente depois que Walt Disney a incluiu na animação "Fantasia", de 1940.
A primeira fase de Stravinski é marcada por composições que aproveitam motivos do foclore russo. "A sagração" retrata um ritual pagão imaginado pelo autor e pelo o filósofo e pintor russo Nicholas Roerich. A temática russa também estava presente em "O pássaro de fogo" e em "Petrushka". Ela continuará em "Renard" (1916), "O canto do rouxinol" (1917), "História do soldado" (1918) e "As bodas" (1917/1923). Mas, nessa fase, Stravinski já havia feito apontamentos para "Pulcinella" (1920), bailado em que parodia a música barroca e classicista. O compositor também faz paródia do jazz em "Rag-time, para onze instrumentos (1918) e de Tchaikovski, em "O beijo da fada" (1928).
Stravinski foi um grande experimentador. Compôs sinfonias, concertos, óperas, música de câmera e bailados. Sua experiência mais radical foi converter-se ao serialismo, na última fase de sua vida. Influenciado pelo dodecafonismo de Arnold Schönberg e expressando grande admiração por Anton Webern, o compositor russo deixou algumas composições. Em "Agon" (1954–57) Stravinski vale-se pela primeira vez do dodecafonismo. Prossegue nesta linha com "Threni" (1958), "Movimentos" (1959), "Variações" (1960), "O dilúvio" (1962) e "Réquiem" (1966).
Ao se afastar da música contemporânea para ingressar na música de vanguarda, Stravinski afastou-se também do público. Até hoje, "A sagração da primavera" é a obra mais marcante de sua carreira de artista e sintetiza o que se pode considerar como ousadia e escândalo. Ela ainda espanta o ouvinte desprevenido com seus sons selvagem e agressivos. Recentemente, comentou-se que "Jeux", de Debussy, é uma composição arrojada, mas não mereceu o devido reconhecimento por estrear no mesmo ano de "A sagração da primavera". O arrojo de "Jeux", sem dúvida, é admirável. Mas Debussy encerrava sua carreira, enquanto Stravinski, há cem anos, estava se tornando o maior compositor do século XX, na opinião deste colunista.
I
Recentemente, Marilene Ramos, presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), esteve em Campos anunciando a segunda etapa de recuperação da malha de canais da Baixada dos Goitacazes. De certa forma, ela reconheceu o fracasso da primeira fase, atribuindo-o ao assoreamento e à eutrofização do sistema. Em outras palavras, ela disse que os R$ 180 milhões investidos na primeira fase foram jogados fora e vem anunciar agora a aplicação de R$ 370 milhões na segunda fase, não eliminando os fatores que contribuíram para o malogro da primeira fase. Podemos entender que a presidente veio anunciar que vai jogar fora uma soma bem maior que a primeira? Creio que o INEA e os autores dos projetos de recuperação dos canais precisam levar mais em conta a singularidade da Baixada dos Goitacases, outrora tão bem conhecida pelos engenheiros que nela faziam intervenções. Tentemos recordar alguns saberes que parecem ter se perdido para os atuais administradores públicos e planejadores.
Em 1933, o governo federal, tendo à frente Getúlio Vargas, criou a Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense. Depois de várias tentativas fracassadas de drenar águas acumuladas nas partes baixas e planas por comissões criadas ou contratadas pelo poder público, um governo com tendências centralizadoras criava uma instituição de caráter permanente para atacar o problema das cheias e dos alagamentos. No ano seguinte, o engenheiro Hildebrando de Araujo Góes apresentava os primeiros resultados dos trabalhos da Comissão: um alentado e ilustrado relatório que reunia informações dos órgãos anteriores e as sistematizava. Em “Saneamento da Baixada Fluminense”, Góes identifica as quatro baixadas do Estado do Rio de Janeiro – Sepetiba, Guanabara, Araruama e Goitacazes – como as áreas mais problemáticas, pois as águas das chuvas caídas na zona serrana corriam para elas em demanda ao mar e ali ficavam retidas em tempos diferentes.
Quanto à Baixada de Sepetiba, também estudada por Góes em rico relatório do mesmo nome (1942), é ela formada e drenada por rios de pequeno porte. A distância entre a zona serrana e o mar é considerável para a ocorrência de enxurradas ao longo da planície. Não assim com relação à Baixada da Guanabara. A distância entre a serra e a Baía de Guanabara não permite a existência de longos rios nem de uma larga planície. Desta forma, chuvas torrenciais causam enxurradas. As águas alcançam logo o mar. No que concerne à Baixada de Araruama, há que se destacar a existência da grande Lagoa de Araruama entre a zona serrana e o mar, o que a transforma em principal receptáculo das chuvas abundantes.
A Baixada dos Goitacazes é singular em relação às suas irmãs. Primeiramente, ela é formada pelo Rio Paraíba do Sul, o maior do Estado do Rio de Janeiro, o que nos leva a concluir que ela também é a mais extensa de todas. Na retaguarda dessa planície, a zona serrana se constitui da Serra do Mar, interrompida abruptamente na margem direita do Rio Paraíba do Sul, e de uma formação cristalina antiga e baixa na sua margem esquerda.
A segunda característica é a distância entre a zona serrana e o mar. Só podemos registrar enxurradas nas vertentes da Serra do Mar. A vertente interior é drenada pelos Rios Piabanha, Paquequer, Grande e do Colégio, principalmente, todos eles afluentes do Rio Paraíba do Sul. Pela vertente exterior, descem os Rios Macabu, Urubu, Imbé e Preto, confluindo todos eles, direta ou indiretamente, para a Lagoa Feia. Da zona serrana baixa, à margem esquerda do Paraíba do Sul, provêm os Rios Paraibuna, Pirapitinga, Pomba e Muriaé, com nascentes na Zona da Mata Mineira.
A terceira característica dessa planície é a mínima declividade dela entre a margem direita do Paraíba do Sul e o mar, o que dificulta o escoamento das águas fluviais e pluviais. Transbordando em períodos de cheia, as águas do Paraíba do Sul derivavam lentamente e, no seu percurso, acumulavam-se em depressões e formavam extensas e rasas lagoas, banhados e brejos. Esta baixada propiciava a constituição de um verdadeiro pantanal. Foi na margem direita do Rio Paraíba do Sul que se instalaram a cidade de Campos e a fatia mais significativa da agroindústria sucroalcooleira.
Na Baixada dos Goitacazes, a rigor, só existiam três extravasores originais e regulares das águas acumuladas no continente para o mar: os Rios Paraíba do Sul, Iguaçu e Guaxindiba, que enfrentavam e enfrentam permanentemente uma forte energia oceânica, que tende a fechar qualquer desaguadouro. Os rios que drenam as Baixadas de Sepetiba e da Guanabara desembocam em baías protegidas. Os que drenam a Baixada de Araruama são capturados pela lagoa de mesmo nome e outras. Já os da Baixada de Goitacazes lutam contra um mar aberto e violento. Não sem razão, Alberto Ribeiro Lamego considerou o mar como o maior adversário da agropecuária e da vida urbana. Ele dizia não ser difícil abrir canais para transportar água do Paraíba do Sul para uma lagoa e desta para outra e desta para mais outra. O problema era abrir canais que transportassem água do continente para o mar, pois a virulência deste certamente faria malograr a obra.
II
Ao ler o plano de recuperação dos canais da Baixada dos Goytacazes, redigido pela Coppetec por encomenda do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), um estudioso íntimo da região nota logo que os autores do plano trabalham em gabinete, com programas de computador. Existem propostas boas no plano, que lembram de longe o grande engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito. Uma delas é reconhecer os limites da engenharia para resolver problemas de drenagem.
Os técnicos recomendam que algumas áreas alagadas sejam mantidas quer por impossibilidade de serem drenadas a contento, quer para não sobrecarregar os sistemas de escoamento. Recomendam também a necessidade de demarcar as faixas marginais de proteção dos canais já cercados pela malha urbana, inclusive com ciclovias, contrariando, assim, a proposta de retirar dispositivos de circulação hídrica e de prédios que estreitam o leito e obstruem as margens.
Também para manter a integridade das faixas marginais de proteção, o plano prevê a arborização delas. Pena que, a julgar pelas ilustrações, não se trata de reflorestamento. As árvores são usadas como elemento ornamental e não funcional. Nas margens dos trechos não canalizados dos rios, cabe reflorestamento cerrado com espécies nativas. Já o reflorestamento das margens dos canais da planície aluvial, mesmo que numa apenas, é discutível, pois não havia florestas contínuas nessa área. Além do mais, é preciso manter caminho para dragas.
Outra boa proposta refere-se à proteção de uma grande área inundável entre a nascente do Rio Ururaí, na Lagoa de Cima, e o início da localidade de Ururaí. Embora, à primeira vista, críticos da área de ciências sociais não simpatizem com a ideia, não vejo em que a proteção desta área afete os interesses dos moradores de Ururaí. Pelo contrário, se tal área for ocupada por aterros e construções, as enchentes da localidade tornar-se-ão mais violentas, por falta de uma área amortecedora de inundações. O mesmo é válido para uma grande várzea à margem direita do Rio Ururaí. Este ponto pode estar ameaçado por mais um núcleo do programa Morar Feliz, da prefeitura e Campos.
Para que o erroneamente denominado Parque das Águas pelo plano seja bem sucedido, sugere-se que ele funcione como elo de ligação entre o Morro do Itaoca e o Parque Estadual do Desengano, incorporando a Lagoa de Cima. Assim, haveria continuidade entre o Parque do Desengano, ampliado até o Rio Imbé, e o Morro do Itaoca, que o INEA pretende incorporar como núcleo isolado do Parque do Desengano. Porém, a Lagoa de Cima só pode ser classificada como Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Ela pode passar Área de Proteção Ambiental (APA) municipal à condição de APA estadual. Desta Unidade de Conservação deve ser excluído o Assentamento Antonio de Faria, junto à Lagoa do Pau Funcho.
Outras áreas que poderiam funcionar como amortecedoras de enchentes, retendo água no continente até o advento da estiagem, situam-se na foz do Rio Macabu e na drenada Lagoa da Piabanha. Nenhuma subtração de terra agricultável causaria a religação da Lagoa Feia às Lagoas da Ribeira e de Dentro. Pela Lagoa da Ribeira, inclusive, seria possível reativar o escoadouro da Lagoa Preta para o mar, além de se estudar a retomada do malfadado Canal de Jagoroaba, aberto no final do século XIX pelo engenheiro Marcelino Ramos da Silva.
As áreas alagáveis ao longo do Canal do Quitingute, que o plano considera de bom alvitre manter, podem ser incorporadas ao grande Banhado da Boa Vista, hoje protegido pelo Parque Estadual da Lagoa do Açu. Com exceção deste último e possivelmente da Lagoa da Piabanha, todas as que se mantêm alagadas durante a maior parte do ano seriam excelentes áreas pesqueiras. Assim, a conciliação das economias agropecuária e pesqueira conheceria um avanço significativo.
Para a margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, o projeto pretende usar o Canal do Vigário com o fim de aduzir água do rio para o sul da Lagoa do Campelo, fazendo com que o excedente hídrico da lagoa volte ao Paraíba do Sul pelo Córrego da Cataia. Parece que o grupo de hidrólogos da Coppetec não está a par do conflito entre pescadores e proprietários rurais no Banhado e Córrego da Cataia. Enquanto os proprietários rurais querem as comportas do córrego junto ao Paraíba do Sul fechadas quando das cheias, os pescadores querem-nas abertas para a entrada do peixe. Há uma lógica ainda não devidamente explicada no pleito dos pescadores. A solução conciliatória que encontrei para os dois interesses seria erguer diques de terra ao longo de todo o córrego para que as águas de cheia do Rio Paraíba do Sul pudessem alcançar a Lagoa do Campelo sem inundar terras ocupadas pela agropecuária. As comportas do córrego junto ao rio seriam mantidas e poderiam ser arriadas quando os dois lados entendessem que a abertura tivesse atendido aos interesses dos pescadores.
Como o assunto dá panos pra manga, continuo a analisá-lo na próxima semana.
III
De forma sistemática, podemos apontar os aspectos positivos e negativos nos documentos Projeto de Recuperação da Infraestrutura Hídrica da Baixada Campista (maio de 2011) e Norte Fluminense – PAC II, ambos do Instituto Estadual do Ambiente (INEA)
POSITIVOS
1- Defesa da manutenção de áreas alagadas e alagáveis no interior da rede de canais por reconhecer a quase impossibilidade de drenagem completa e a importância de não sobrecarregar os canais de drenagem. Como exemplos, menciona a área alagada da Lagoa do Açu, parecendo ignorar que ela já está protegida por um Parque Estadual criado pelo próprio INEA, uma grande área do Rio Ururaí entre sua nascente e ponto a montante da localidade de Ururaí, não excluindo o assentamento Antônio de Faria, e as margens da Lagoa de Cima, desinformado sobre a condição de Área de Proteção Ambiental Municipal da lagoa e da demarcação de sua Faixa Marginal de Proteção pelo próprio INEA.
2- Reconhecimento de que as áreas alagáveis, no âmbito da rede de canais, secam muito lentamente, mas não efetuou estudos sobre evaporação correspondentes a elas.
3- Previsão de instalação de rede coletora de esgoto ao longo dos canais já urbanizados, mas sem fazer menção ao tratamento terciário deste efluente líquido. Além do mais, em se tratando de área urbana, cabe às prefeituras dotar tais áreas de redes de coleta e de estações de tratamento de esgoto.
4- Intenção de definir as Faixas Marginais de Proteção dos canais para evitar usos indevidos das margens, que devem ficar livres para a circulação de máquinas necessárias à manutenção da integridade do sistema, bem como desimpedir o leito dos canais, restabelecendo as larguras e as profundidades.
5- Reforma dos diques nas margens do Rio Paraíba do Sul.
6- Anúncio da recuperação e da modernização do sistema de comportas.
NEGATIVOS
1- A redação dos textos é sofrível e primária. Há muita repetição e erros. O que mais espanta é grafar psicultura em vez de piscicultura várias vezes. Nem de longe eles se aproximam do pior relatório produzido sobre a Baixada dos Goytacazes.
2- Insistem na abertura de um canal, denominado Campos-Açu, com início no Canal de Coqueiros, cruzando os Canais de São Bento e Quitingute, para chegar ao mar pelo destruidor canal do estaleiro da OSX, no Açu. O próprio Estudo de Impacto Ambiental do distrito industrial do Açu mostra que esse canal ameaça a Lagoa Salgada, Patrimônio da Humanidade e parte do Parque Estadual da Lagoa do Açu. Melhor seria se este canal aproveitasse as Lagoas de Gruçaí e Iquipari. Esta segunda, no entanto, terá sua parte inicial aterrada pelo distrito industrial com aval do INEA. Menos pior seria a ligação do Canal do Quitingute ao mar na antiga Barra Velha, na Lagoa do Lagamar.
3- Pretendem não remover de todo o Durinho da Valeta, mas reduzir sua espessura, preocupando os pescadores.
4- Os projetos parecem não levar em conta o complexo logístico de Barra do Furado.
5- Pretendem priorizar a drenagem da margem esquerda do Paraíba do Sul pelo Canal do Vigário e pelo Córrego da Cataia, deixando o Canal Engenheiro Antonio Resende em segundo plano. Inclusive preveem um vertedouro auxiliar junto à bateria de comportas do Córrego da Cataia junto ao Paraíba do Sul. O pleito dos pescadores foi ignorado.
6- As premissas históricas dos projetos estão totalmente erradas.
7- Não mencionam a coleta de lixo nas partes urbanizadas dos canais nem abordam o impacto dos fertilizantes químicos no processo de eutrofização dos sistemas hídricos.
8- Preveem o uso de dragas para a remoção da vegetação flutuante e não sua remoção manual, conforme anunciada pelo Secretário Estadual de Ambiente, Carlos Minc.
9- Planejam áreas de lazer e ciclovias em ambas as margens do Canal de Coqueiros, na área urbana, algo que compete à prefeitura de Campos. Os canais devem ficar livres para facilitar a limpeza. Com ciclovias em ambas as margens, como uma draga pode circular?
10- O plantio de árvores nas margens de certos cursos d’água é puramente decorativo, desprovido das funções exercidas pelas matas ciliares.
11- A propósito, não há referências à necessidade de reflorestar pontos críticos no Noroeste Fluminense nem sobre a importância das lagoas da margem esquerda do Rio Muriaé na mitigação de enchentes e de estiagens prolongadas.
12- Concluo reiterando que os projetos devem passar necessariamente pela apreciação do Comitê de Bacia IX, que toma decisões sobre o baixo Paraíba do Sul.
Na verdade, o ecohistoriador estuda as relações materiais e representacionais dos modos de produção com os ecossistemas. O conceito de modo de produção já não é mais marxista. Ele faz parte das ciências sociais. Contudo, deve-se estreitar ao máximo os conceitos de modo de produção e de formação social. Podemos aceitar que a colonização das Américas se insere no contexto da constituição do modo de produção capitalista detalhando suas especificidades. Este procedimento prudente afasta o historiador dos tipos ideais weberianos sem, contudo, perdê-los de vista.
Por outro lado, é imprescindível dominar os conceitos de ecossistema, ecótono, ecorregião, bioma e ecosfera, pois é com as realidades expressas por eles que o ecohistoriador irá lidar. A realidade ecossistêmica é um novo protagonista de história, assim como são os indivíduos, as classes sociais, as nações e os Estados. Se negamos a condição de sujeito de história aos ecossistemas, enfraquecemos a ecohistória como campo de conhecimento. Reconhecendo a condição de sujeito dos ecossistemas e das realidades infra e supraecossistêmicas, admitimos que a natureza é dinâmica e que, ela mesma, tem uma história que só depende de nós quanto a sua compreensão.
Como se relacionam os modos de produção com os ecossistemas? A resposta a esta pergunta depende do conhecimento dos atores em cena. Precisamos conhecer as representações que uma sociedade faz do(s) ecossistema(s) com o(s) qual (quais) interage. Essas representações estão intimamente associadas à economia, à tecnologia e à organização social e política do modo de produção. Por outro lado, é preciso conhecer também a natureza do ecossistema, sua resiliência e os limites de sua homeostase.
Um ecossistema é perturbado se as ações de um modo de produção sobre ele não ultrapassam sua resiliência, ou seja, sua capacidade de autorregeneração. Se tais limites são ultrapassados, mais do que perturbação, ocorrerá a degradação do ecossistema, isto é, sua capacidade de autorregeneração será perdida, pelo menos se mantidas as condições causadoras da degradação. Imaginemos uma cidade construída num espaço ocupado anteriormente por uma floresta derrubada. As condições de autorregeneração foram suprimidas. Para o retorno da floresta, seriam necessários o desmantelamento da cidade e o seu replantio. No longo prazo, o abandono de um sistema cultural pode permitir a recuperação de um ecossistema degradado, como aconteceu com as cidades da civilização maia.
Os historiadores ainda sofrem uma influência muito grande do marxismo. Assim, a tendência é considerar que só o modo de produção capitalista, nas suas diversas formações sociais, é capaz de causar impactos perturbadores e degradadores aos ecossistemas. Entendo que nenhum modo de produção alcançou a capacidade de perturbar e degradar os ecossistemas como o capitalismo. Só ele foi capaz de provocar uma crise ambiental de caráter planetário. Não se pode esquecer, contudo, os casos da civilização índica e da Ilha de Páscoa.
Vou até mais longe, levantando uma possível polêmica: para os ecossistemas o que conta é o resultado. Não importa se sua perturbação ou degradação foi provocada por uma economia dominante ou dominada. A agricultura de uma Europa e de um Estados Unidos dominantes, no interior dos seus territórios, pode ser tão degradadora quanto uma economia dominada. Basta observar a destruição do Cerrado por uma agricultura voltada para exportação. Mas o historiador não deve descurar jamais das especificidades dos modos de produção.
Comecei minha carreira acadêmica dando aula de história da antiguidade (e não antiga). Nos meus planos de curso, eu dedicava parte expressiva para analisar os hominídeos e as origens da cultura. As sociedades paleolíticas e neolíticas (e não pré-históricas) mereciam atenção especial e sempre suscitavam polêmicas com os alunos. Infelizmente, os professores de história da antiguidade hoje não se interessam mais por este assunto como antes. Embora aposentado, continuou acompanhando as pesquisas sobre nossa grande família paleontológica, hoje estudada mais por biólogos do que por cientistas sociais. Trago algumas novidades.
1- Ponto de mutação. A constituição da família dos hominídeos e sua diferenciação quanto aos grandes primatas (orangotango, gorila, chimpanzé, bonobo e seus antepassados) começa, até o momento, com o "Sahelantropus tchadensis", há quase 7 milhões de anos antes do presente. Em seguida, entram em cena o "Orrorin tugenensis" e as duas espécies de "Ardipithecus", sem que se tenha estabelecido o vínculo de sucessão entre eles. Parece que o "Ardipithecus" deu origem ao florescente gênero do "Australopithecus", do qual derivaram os gêneros "Paranthropus" e "Homo". Todos eles se extinguiram. Apenas o gênero "Homo" representa a família pelo "Homo sapiens".
2- Origem da cultura. Se considerarmos que orangotango, gorila, chimpanzé, bonobo e até mesmo o macaco-prego revelam capacidade de manusear materiais da natureza para atingir seus fins, podemos já dizer que o "Sahelanthropus tchadensis" e os hominídeos posteriores faziam o mesmo. Usar elementos brutos da natureza sem os trabalhar pode ser entendido como proto-cultura ou cultura. As primeiras ferramentas de pedra são seixos com pontas afiadas e datam de cerca de 2 milhões de anos atrás. Elas eram usadas com as mãos nuas. As espécies associadas a elas tinham como principal fonte de proteínas e gorduras as carcaças de mamíferos abatidos por carnívoros. Esses hominídeos ainda dependiam pouco da caça. O "Homo habilis", cujos restos foram encontrados por Louis Leakey, na Tanzânia, já usava ferramentas trabalh adas. As mais antigas lanças foram achadas na Alemanha e eram feitas inteiramente com madeira. Recentemente, foram encontradas mais de 200 pontas de lança de pedra no sul africano. Elas datam de 500 mil anos e tinham cabo de madeira. Supõe-se que estejam associadas ao "Homo heidelbergensis".
3- Descida das árvores. Até pouco tempo, supunha-se que o primeiro passo para a constituição da família dos hominídeos foi uma grande seca que obrigou primatas a descerem das florestas e a se acostumarem à vida na savana, adotando postura ereta e marcha bípede. Atualmente, acredita-se que os primeiros hominídeos viviam tanto nas florestas quanto no chão. O dedo grande do pé do "Ardipithecus" se opunha aos outros, como nos grandes primatas, indicando sua vida arborícola. Com os dedos dos pés já paralelos, o "Australopithecus afarensis", que viveu há mais de 3 milhões de anos, continuou a ser anfíbio, vivendo tanto no chão quanto nas árvores. Ambos já tinham marcha bípede. Concluiu-se que, para a obtenção de alimentos, era mais vantajoso viver em dois mundos. Em certas culturas, o "Homo sapiens" ain da hoje ganha sua vida subindo em árvores.
4- Fogo e cozimento. O fogo livre sempre existiu na natureza. Atribui-se ao "Homo erectus" a novidade de produzi-lo e de usá-lo para cozer alimentos. Recentemente, as cientistas brasileiras Suzana Herculano-Houzel e Karolina Fonseca-Azevedo confirmaram que o cozimento de alimentos permitiu aos hominídeos economizar energia com um corpo menor e um cérebro mais complexo. Enquanto o gorila chega a pesar 180 kg, contando seu cérebro com 33,4 bilhões de neurônios, o "Homo sapiens", com cem quilos menos, tem um cérebro com 86 bilhões de neurônios. A comida cozida é mais fácil de mastigar e de digerir, além de facilitar a absorção de calorias. O cozimento aumenta a disponibilidade de tempo para a vida social, que, por sua vez, estimula o desenvolvimento do cérebro.
5- Novos parentes. Quando lecionei história da antiguidade, só eram conhecidos o "Australopithecus", o "Paranthropus", o "Pitecanthropus", o "Neanderthal" e o "Homo", dispostos em linha reta. Hoje, já existem mais de 20 espécies identificadas, e outras estão sendo encontradas, como o "Australopithecus sediba", o "Homo rudolfensis", a espécie nomeada KNM-ER 1470, o "Homo floresiensis" e o possível "Homo" de Denisovan. Hoje, a distribuição dos hominídeos no tempo é concebida como um leque, não mais como uma linha reta. Houve momentos em que mais de uma espécie existia ou conjuntamente ou em espaços distantes.
Nos anos de 1970, Loring Brace declarou que o evolucionismo era a sua religião. Se ele fosse considerado como religião, haveria dogmas e o conhecimento científico não avançaria. Em ciência, tudo deve ser tomado em caráter provisório.
Segundo Pilar Lacerda, os descendentes de escravos no Brasil não aprendem a história dos africanos nas escolas. O mesmo acontece com os índios ainda não totalmente aculturados e com aqueles que já se integraram na sociedade brasileira. Com estupor, vejo num livro didático de meu neto que índios e negros são representados por cães e gatos que ladram e miam, carecendo de uma humana para traduzir suas línguas.
Herdamos remanescentes das representações mentais desenvolvidas pelos europeus acerca dos índios e dos negros e ainda as reproduzimos. A propósito, é preciso esclarecer que índios e negros também formularam representações sobre o europeu. O antropólogo Claude Lévi-Strauss diz que os europeus matavam ou escravizavam os índios por não considerá-los humanos, o que foi muito bem enfocado no filme "A missão", de Roland Joffé . Por sua vez, os índios matavam os europeus para verificar se seus corpos se decompunham, já que os consideravam apenas espíritos. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro tem estudo s antológicos sobre as visões de mundo dos cristãos e dos animistas e xamanistas. Os guanches, nativos do Arquipélago das Canárias, acreditavam que um cavaleiro europeu formava com seu cavalo um único animal.
Os europeus formularam a representação geral de que os negros africanos eram infra-humanos e que, em vista dessa condição, podiam ser escravizados, até porque os próprios negros escravizavam negros de etnias derrotadas em guerra. Os ideólogos da escravidão colonial consideravam a escravidão de negros por negros aviltante, ao passo que a escravidão praticada por brancos fora da África era engrandecedora. Mesmo na condição de escravos, o simples contato dos negros com os brancos promovia a civilização dos primeiros até onde sua sub-humanidade permitisse. Por outro lado, os negros também achavam os brancos seres não humanos, pois, entre outros argumentos, sua boca não era carnuda como a dos negros e seus pés não tinham dedos, já que tom avam as botas pelos pés.
Se todos os povos representam o estranho, por que condenar as representações dos europeus e não também as dos índios e negros? É que os brancos tinham doenças e armas desconhecidas dos outros, elementos que permitiram a Europa, depois os Estados Unidos, dominar o mundo. Para defender os vencidos e os esquecidos, os historiadores também precisam de representações, principalmente a de que todos - brancos, amarelos e negros, ocidentais e não ocidentais - são humanos, todos têm cultura e todos têm história. E aonde eles vão buscar subsídios para formar esta representação? Na Antropologia, na Etologia, na Anatomia, na Fisiologia e na Genética, embora os historiadores, na sua maioria, façam com estes conhecimentos científicos o que os domi nadores brancos fazem com outros povos: não se interessam por estes conhecimentos de modo mais profundo.
A Antropologia mostra que todos os povos constroem culturas e têm história, mesmo os povos considerados sem história. A Etologia mostra comportamentos muito semelhantes entre primatas e humanos, inclusive a presença de uma protocultura nos primatas. A Anatomia mostra a nossa semelhança morfológica com índios, negros e primatas. A Fisiologia revela que o funcionamento do organismo branco é o mesmo do organismo amarelo, negro e até mesmo dos primatas e de outros mamíferos. A Genética não deixa dúvidas quanto a integrarmos a ordem dos primatas e a família dos hominídeos. Os historiadores costumam obter estas informações de maneira muito superficial em leituras de jornal e de revistas de notícias. Em resumo: a humanidade de brancos, amarelos e negros é uma representação que os historiadores usam sem muito rigor científico.
Num mergulho mais profundo, as ciências, notadamente a Genética ou Genômica, não deixam dúvidas sobre a íntima ligação do "Homo sapiens" com os animais, vegetais, fungos, protozoários e bactérias. No entanto, a maioria esmagadora dos historiadores continua considerando a natureza como palco e fonte e recursos para a história humana. O que os ecohistoriadores procuram demonstrar é a condição da natureza também como protagonista, vencida e esquecida. É certo que a ecohistória não estará presente no Segundo Festival de História de Diamantina. Se estiver, apenas os historiadores que trabalham com representações humanas sobre a natureza participarão dele.
Blogs dos Colunistas

Ana
Kaye
Rio de Janeiro

Andrei
Bastos
Rio de Janeiro - RJ

Denise
Dalmacchio
Vila Velha - ES

Doroty
Dimolitsas
Sena Madureira - AC

José
Milbs
Macaé - RJ